
– Vamos, menina.
– Pra onde, avó?
– Pra onde, avó?
Penso eu, por acaso, que vai a avó se dignar a me dar uma resposta? Olhar-me – a mim, miúda flor, tímida, tão – e dizer dos nossos passos o rumo?
Da minha mão toma a avó, ergue a cabeça, mira o caminho. Particularmente feliz me sinto: à mão da avó agarrada, saber o destino já não quero, pouco me interessa aonde vamos.
A andar estamos. Casa após casa, vou vendo caras na janela, gente nova, gente velha, feia, bonita, de todo tipo. Vejo menino, cachorro, galinha. O verdureiro, o amolador de tesoura, o soldador de panelas, o homem do pirulito, dona fulana, seu sicrano, dona beltrana. Dar um bom-dia a avó não dá a ningém; dizer “Como vai?”, não diz. Mexer com a cabeça não mexe, não espia de lado, nem pra baixo, nem pra cima. Olha reto, as pernas passos ligeiros dão, decidida ela segue.
Sou contentamento: minha mão na mão da avó. Não importa o modo nervoso como quase me puxa, nem o aperto que vez ou outra sinto nos dedos. O passo da avó rápido é, e as minhas pernas de menina quase já não acompanham esse ritmo.
– Ainda está longe, avó?
– É bem ali.
– Meus pés estão doendo...
– Eles agüentam.
Quero parar. Faz um tempão que a gente anda. Quero que a avó pare, como a mãe,
numa casa e noutra, para eu ter tempo de no batente me sentar e aliviar os pés.
– Avó, não vamos parar?
– Só sabe reclamar, menina?
Reclamando não estou. Extenuada, isso sim. Cansada, muito, tão. A avó não presta atenção em mim, não tem pena do meu cansaço. Cruel está sendo, embora sem querer, eu sei, mas está. Tanta légua já, tanta casa, tanta rua, gente tanta, poste, porta, calçada alta, calçada baixa, meio-fio, rua de barro, isso assim, aquilo doutro jeito. Sinto que o prazer de estar agarrada à mão da avó extinguindo-se vai com o cansaço. Com as costas da mão esquerda, livro os olhos das gotas de suor que escorrem da testa.
Diminui o passo a avó. O rosto afogueado, suada também. Larga a minha mão, ajeita a trança presa no coque, enxuga o rosto com a barra da saia.
– Chegamos, avó?
– Chegamos.
É o cemitério. Ultrapasso o enorme portão preto de ferro e não sinto medo nem tristeza. Sinto um enorme alívio por ter, enfim, chegado a algum lugar.
– Que bom, avó...
Sento-me na beira de uma cova. As alpercatas desabotôo. Abano o rosto, respiro fundo. Olho o céu, e ele me parece bordado de amarelo: enfeitam-no os girassóis.
A avó se distancia. Que mortos ela tem pra chorar? Que almas lhe pedem reza? Vou vendo-a cada vez menor, entre uma cova e outra, passando ora por uma cruz, ora por uma placa de cimento.
Pequenininha, a avó, lá longe, no fundo do cemitério. Tenho sono, tanto, muito. Mal abro os olhos. Sequer tenho noção de abandono ou medo. Perco a avó de vista. Tudo é silencio.
Que segredos terá vindo a avó guardar no cemitério?
In: Grande baú, a infância
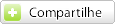
Nenhum comentário:
Postar um comentário