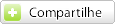EN EL AZUL DE LORCA
Las estrellas de Lorca reposan
sobre el azul dormido,
pero nada me dicen de ti.
¿Sabrán los álamos de los ríos de Lorca
qué pasos peregrinos se interponen
entre nuestros azules,
imposibles hoy?
¿Sabrán las aguas desnudas de Lorca
cuántas luces habrás de cruzar,
en cuántos cuerpos habrás de dormir
y qué laberintos habrás de tejer para engañar al tiempo,
antes de que te asomes en la madrugada
de mi calle?
Hay las carabelas, lo sé.
Pero no debo apresurarte. Vendrás
a la época de los frutos maduros,
del trigo y de las uvas,
de la miel y del amor.
Vendrás en el rastro de Lorca
y en los claros azules en que fui testigo
de la luz de la luna hiriendo de añoranza
la noche profunda.
Vendrás por senderos que se han de consumir
en flor y silencio:
aprenderás a acunar a Lorca
para comprender que, como él,
no conoces tu fin
ni tu destino.
Del libro VAGOS AFECTOS (In: OBRA POÉTICA REUNIDA – 2010)
ANTOLOGÍA DE POETAS BRASILEÑOS ACTUALES
quarta-feira, 31 de agosto de 2011
Poemas de Arriete Vilela são traduzidos para o espanhol (1)
NO AZUL DE LORCA
As estrelas de Lorca repousam
sobre o azul dormido,
mas nada me dizem de ti.
Saberão os álamos dos rios de Lorca
que passos peregrinos se interpõem
entre os nossos azuis,
impossíveis hoje?
Saberão as águas desnudas de Lorca
quantas luzes hás de atravessar,
em quantos corpos hás de dormir
e que labirintos hás de tecer para lograr o tempo,
antes que assomes na madrugada
da minha rua?
Há as caravelas, sei.
Mas não devo apressar-te. Virás
à época dos frutos maduros,
do trigo e das uvas,
do mel e do amor.
Virás no rastro de Lorca
e nos claros azuis em que testemunhei
os luares ferindo de saudade
a noite profunda.
Virás por veredas que se hão de consumir
em flor e silêncio:
aprenderás a ninar Lorca
para compreender que, como ele,
não sabes teu fim
nem teu destino.
Do livro VADIOS AFETOS (In: OBRA POÉTICA REUNIDA – 2010)
As estrelas de Lorca repousam
sobre o azul dormido,
mas nada me dizem de ti.
Saberão os álamos dos rios de Lorca
que passos peregrinos se interpõem
entre os nossos azuis,
impossíveis hoje?
Saberão as águas desnudas de Lorca
quantas luzes hás de atravessar,
em quantos corpos hás de dormir
e que labirintos hás de tecer para lograr o tempo,
antes que assomes na madrugada
da minha rua?
Há as caravelas, sei.
Mas não devo apressar-te. Virás
à época dos frutos maduros,
do trigo e das uvas,
do mel e do amor.
Virás no rastro de Lorca
e nos claros azuis em que testemunhei
os luares ferindo de saudade
a noite profunda.
Virás por veredas que se hão de consumir
em flor e silêncio:
aprenderás a ninar Lorca
para compreender que, como ele,
não sabes teu fim
nem teu destino.
Do livro VADIOS AFETOS (In: OBRA POÉTICA REUNIDA – 2010)
ANTOLOGÍA DE POETAS BRASILEÑOS ACTUALES
terça-feira, 30 de agosto de 2011
domingo, 28 de agosto de 2011
Mostra fotográfica de Tereza Carnaúba
- Vernissage O OLHO DA ALMA
- Tereza Carnaúba
- 19/09/2011
- 19h30m
- Museu de Arte Brasileira da Fundação Pierre Chalita
- Praça Manoel Duarte, 77 - Jaraguá
- Tereza Carnaúba
- 19/09/2011
- 19h30m
- Museu de Arte Brasileira da Fundação Pierre Chalita
- Praça Manoel Duarte, 77 - Jaraguá
De João de Mancelos
 "Para escrever um bom texto é necessária uma coincidência feliz entre talento, inspiração, saber técnico, esforço, disciplina, oportunidade e até um pouco de sorte. Não é fácil, portanto. Talvez, por isso, os textos bons, cintilantes e capazes de dobrar o cabo do tempo constituam uma raridade, mesmo entre escritores experientes e premiados. Até vencedores do Prêmio Nobel escreveram narrativas menos boas."
"Para escrever um bom texto é necessária uma coincidência feliz entre talento, inspiração, saber técnico, esforço, disciplina, oportunidade e até um pouco de sorte. Não é fácil, portanto. Talvez, por isso, os textos bons, cintilantes e capazes de dobrar o cabo do tempo constituam uma raridade, mesmo entre escritores experientes e premiados. Até vencedores do Prêmio Nobel escreveram narrativas menos boas."
sábado, 27 de agosto de 2011
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
quinta-feira, 25 de agosto de 2011
Texto de Arriete Vilela
TEXTO 9
Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá
Uma vez, tindô lêlê; outra vez, tindô lá lá...
De manhã, onze horas. A mais bonita hora. Suave, brilha a lagoa. Porque nela, contente, espalha-se o sol. Avizinham-se as baronesas, e apressadas, tão, como se atrasadas estivessem para a festa da natureza.
Sem rugas têm as pessoas a cara; hora certamente não é para as rusgas.
E da cozinha vem, do alho jogado no óleo quente, o cheiro. Prepara-se o almoço. Apetitosa hora.
Aí me chama a mãe:
– Vai na quitanda de dona Zinda e diz pra ela me mandar tomate e coentro.
– O dinheiro, mãe?
– Acerto depois.
Vou. De Dona Zinda a quitanda é na direção contrária à lagoa. Ao pé da ladeira.
Dou o recado da mãe.
– Espere um pouco, menina, vou apanhar.
Digo, antes que no quintal ela desapareça:
– E esse limão, dona Zinda, é pra vender?
– Sua mãe também quer limão?
– Não, eu que quero.
– Pra quê, menina?
– Pra brincar.
– Com limão, menina?
– É, a senhora me dá?
– Dou.
Noto um “dou” um tanto seco da mulher. Não importa. Deu, dado está.
Por uma porta estreita desaparece dona Zinda. Ao quintal vai. Do pé de tomate, tomates sadios colhe. Vermelhos, amadurecidos naturalmente. Se cedinho fosse, ainda os apanharia orvalhados. Do canteiro de coentro, um buquê. Perdão dizer buquê. Não que o coentro de dona Zinda não mereça, mas é pelo inusitado da coisa. Cheirosas folhinhas, verdes, da cor mesma das baronesas. Lindinhas.
Pois que chego a casa com os tomates, o coentro, o limão.
– Mandei comprar limão também?
– Não, mãe.
– E por que trouxe?
– Dona Zinda me deu.
– A troco de quê?
– De nada não, mãe, só pra eu brincar.
– Com o limão?
– É, jogar na parede que nem uma bolinha.
– Tem certeza de que dona Zinda deu?
– Deu, mãe.
– Você não carregou sem ela ver?
– Não, imagina!
– Pediu?
– Pedi, ela deu, juro.
– Pois vamos tirar isso a limpo.
Escrupulosa, a mãe, muito. Cutuca dos filhos os pertences: “Quem lhe deu isto?, vou perguntar se deu mesmo, não quero novidades, se me chegar com alguma coisa dos outros leva uma pisa, blá blá blá”.
Pois bem. À quitanda de dona Zinda vamos. Tirar a limpo do limão a história, mesmo que não careça. Tranquila vou, no bolso da saia o limão levo. Novinho, graúdo, de cheiro acre e bom.
– Dona Zinda, vim perguntar uma coisa.
– Pois diga.
– A menina me chegou com uma limão, disse que ganhou, é verdade?
Mostro o limão, acomodado está na minha mão, e bem, já gosto dele, muito.
– Este, dona Zinda, a senhora deu à menina?
– Este limão assim graúdo, bom de vender?
– Sim, este mesmo.
– Dei não.
– Não?!
– Ela deve ter pegado quando fui ao quintal, mas dar não dei.
– Pois muito bem, dona Zinda, bote o limão na minha conta.
Sinto da palavra o ferrão, e na garganta me atravessa um ah! indignado. Dizer “Mentira, dona Zinda está mentindo, eu não tirei escondido o limão!”, não digo. Embaraçada e ferida, olho-a; mas a mulher, indiferente, já se ocupa em anotar na caderneta de fiados a dívida do limão.
Pois que em casa, irada, sentindo-se ultrajada, envergonhada, a mãe me impõe um castigo:
– Você vai chupar esse limão até a última gota, está ouvindo?
Graúdo, bonito, cheiroso, o limão. Pra brincar serviria deliciosamente. Bola ligeira da mão para a parede. Brincadeira solitária, sei, mas ia me entreter um bocado. Ia.
Na boca, porém, outro é o gosto deste limão. Azedo, tão, azedíssimo, insuportável quase.
Amargo entretenimento.
(In: Grande baú, a infância)
Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá
Uma vez, tindô lêlê; outra vez, tindô lá lá...
De manhã, onze horas. A mais bonita hora. Suave, brilha a lagoa. Porque nela, contente, espalha-se o sol. Avizinham-se as baronesas, e apressadas, tão, como se atrasadas estivessem para a festa da natureza.
Sem rugas têm as pessoas a cara; hora certamente não é para as rusgas.
E da cozinha vem, do alho jogado no óleo quente, o cheiro. Prepara-se o almoço. Apetitosa hora.
Aí me chama a mãe:
– Vai na quitanda de dona Zinda e diz pra ela me mandar tomate e coentro.
– O dinheiro, mãe?
– Acerto depois.
Vou. De Dona Zinda a quitanda é na direção contrária à lagoa. Ao pé da ladeira.
Dou o recado da mãe.
– Espere um pouco, menina, vou apanhar.
Digo, antes que no quintal ela desapareça:
– E esse limão, dona Zinda, é pra vender?
– Sua mãe também quer limão?
– Não, eu que quero.
– Pra quê, menina?
– Pra brincar.
– Com limão, menina?
– É, a senhora me dá?
– Dou.
Noto um “dou” um tanto seco da mulher. Não importa. Deu, dado está.
Por uma porta estreita desaparece dona Zinda. Ao quintal vai. Do pé de tomate, tomates sadios colhe. Vermelhos, amadurecidos naturalmente. Se cedinho fosse, ainda os apanharia orvalhados. Do canteiro de coentro, um buquê. Perdão dizer buquê. Não que o coentro de dona Zinda não mereça, mas é pelo inusitado da coisa. Cheirosas folhinhas, verdes, da cor mesma das baronesas. Lindinhas.
Pois que chego a casa com os tomates, o coentro, o limão.
– Mandei comprar limão também?
– Não, mãe.
– E por que trouxe?
– Dona Zinda me deu.
– A troco de quê?
– De nada não, mãe, só pra eu brincar.
– Com o limão?
– É, jogar na parede que nem uma bolinha.
– Tem certeza de que dona Zinda deu?
– Deu, mãe.
– Você não carregou sem ela ver?
– Não, imagina!
– Pediu?
– Pedi, ela deu, juro.
– Pois vamos tirar isso a limpo.
Escrupulosa, a mãe, muito. Cutuca dos filhos os pertences: “Quem lhe deu isto?, vou perguntar se deu mesmo, não quero novidades, se me chegar com alguma coisa dos outros leva uma pisa, blá blá blá”.
Pois bem. À quitanda de dona Zinda vamos. Tirar a limpo do limão a história, mesmo que não careça. Tranquila vou, no bolso da saia o limão levo. Novinho, graúdo, de cheiro acre e bom.
– Dona Zinda, vim perguntar uma coisa.
– Pois diga.
– A menina me chegou com uma limão, disse que ganhou, é verdade?
Mostro o limão, acomodado está na minha mão, e bem, já gosto dele, muito.
– Este, dona Zinda, a senhora deu à menina?
– Este limão assim graúdo, bom de vender?
– Sim, este mesmo.
– Dei não.
– Não?!
– Ela deve ter pegado quando fui ao quintal, mas dar não dei.
– Pois muito bem, dona Zinda, bote o limão na minha conta.
Sinto da palavra o ferrão, e na garganta me atravessa um ah! indignado. Dizer “Mentira, dona Zinda está mentindo, eu não tirei escondido o limão!”, não digo. Embaraçada e ferida, olho-a; mas a mulher, indiferente, já se ocupa em anotar na caderneta de fiados a dívida do limão.
Pois que em casa, irada, sentindo-se ultrajada, envergonhada, a mãe me impõe um castigo:
– Você vai chupar esse limão até a última gota, está ouvindo?
Graúdo, bonito, cheiroso, o limão. Pra brincar serviria deliciosamente. Bola ligeira da mão para a parede. Brincadeira solitária, sei, mas ia me entreter um bocado. Ia.
Na boca, porém, outro é o gosto deste limão. Azedo, tão, azedíssimo, insuportável quase.
Amargo entretenimento.
(In: Grande baú, a infância)
quarta-feira, 24 de agosto de 2011
De Paulo Leminski
Do prof. Hélder Pinheiro
"Um professor que não é capaz de se emocionar com uma imagem, com uma descrição, com o ritmo de um determinado poema, dificilmente revelará na prática que a poesia vale a pena, que a experiência simbólica condensada naquelas palavras são essências em sua vida. Creio que sem um mínimo de entusiasmo, dificilmente poderemos sensibilizar nossos alunos para a riqueza semântica da poesia."
(In: Poesia na sala de aula)
(In: Poesia na sala de aula)
Do poeta mineiro Murilo Mendes
domingo, 21 de agosto de 2011
De Hélio Pellegrino
 “Quando você faz 20 anos, está de manhã olhando o sol do meio dia. Aos 60, são seis e meia da tarde e você olha a boca da noite. Mas a noite também tem seus direitos. Esses 60 anos valeram a pena. Investi na amizade, no capital erótico, e não me arrependo. A salvação está em você se dar, se aplicar aos outros. A única coisa não perdoável é não fazer. É preciso vencer esse encaramujamento narcísico, essa tendência à uteração, ao suicídio. Ser curioso. Você só se conhece conhecendo o mundo. Somos um fio nesse imenso tapete cósmico. Mas haja saco!"
“Quando você faz 20 anos, está de manhã olhando o sol do meio dia. Aos 60, são seis e meia da tarde e você olha a boca da noite. Mas a noite também tem seus direitos. Esses 60 anos valeram a pena. Investi na amizade, no capital erótico, e não me arrependo. A salvação está em você se dar, se aplicar aos outros. A única coisa não perdoável é não fazer. É preciso vencer esse encaramujamento narcísico, essa tendência à uteração, ao suicídio. Ser curioso. Você só se conhece conhecendo o mundo. Somos um fio nesse imenso tapete cósmico. Mas haja saco!"
(Carta a Fernando Sabino, revista pelo autor ao fazer 60 anos).
Enviado pela psicanalista Ana Batinga
Arriete:
De repente a saudade e a consciência de termos perdido alguém aparece e traz consequências!
Muito bom o seu texto "O afilhado". Suave. Verdadeiro.
Abraços.
Ana Batinga
De repente a saudade e a consciência de termos perdido alguém aparece e traz consequências!
Muito bom o seu texto "O afilhado". Suave. Verdadeiro.
Abraços.
Ana Batinga
De Érico Veríssimo
quarta-feira, 17 de agosto de 2011
domingo, 14 de agosto de 2011
sábado, 13 de agosto de 2011
O afilhado - Conto de Arriete Vilela
Os olhos de Nildinha colaram-se no pote de água, a um canto da cozinha. Tinha certeza: o menino escondera-se ali atrás. Mas não era possível. O menino estava morto há mais de dois anos.
Nildinha era a madrinha do menino. Ela mesma tinha menos de cinco anos quando o levou à pia batismal. Segurou-o com excessos de cuidado: receava machucá-lo ou derrubá-lo. Era já uma menina muito séria e muito responsável para a idade. Talvez por isso tenha sido convidada para ser a madrinha. A partir daquele dia, passou a ter uma comadre, um compadre e um afilhado, o que lhe dava uma certa distinção junto às outras crianças. Bom dia, comadre Nildinha, Como vai passando, comadre Nildinha?, Dê a bênção ao menino, comadre Nildinha, e assim por diante eram cumprimentos que a tornavam uma menina diferenciada, cheia de comedimentos, mesuras, compenetrações. Se estava a brincar, pulando corda ou no jogo das pedrinhas, afogueada como um raiozinho de sol, mal avistava a comadre ou o compadre e já se compunha: passava as mãos nos cabelos para acomodá-los melhor, ajeitava a roupa, enxugava com a barrinha da saia o rosto suado e, como um adulto, respondia à saudação, sem se esquecer de perguntar pelo afilhado.
Quando o menino morreu, Nildinha chorou um pouco e logo o esqueceu. Ela era uma criança e, talvez por isso, não internalizou aquela perda, não ficou a remoer saudades. No caixãozinho branco, o menino parecia dormir. Ela o olhou e disse: Deus te abençoe, meu afilhado. E só. No dia seguinte, brincava na pracinha como se nada houvesse acontecido. Mas continuou a considerar o pai e a mãe do menino como seus compadres, a cumprimentá-los com respeito e estima.
Pois naquela manhã, na cozinha da casa da comadre, Nildinha viu o afilhado morto a esconder-se, brincalhão, por detrás do pote de água. Ela havia ido buscar qualquer coisa emprestada, a pedido de sua mãe. Chamara pela comadre e, sem resposta, fora entrando. Ao ver o menino, Nildinha perguntou:
– O que está a fazer aí, meu afilhado?
Silêncio.
Ela de novo perguntou:
– O que está a fazer aí, meu afilhado?
Silêncio.
Então ela foi até o pote, arrodeou-o, mas não encontrou ninguém. Voltou para o ponto em que estava, recostou-se na porta da cozinha, e então viu a carinha risonha do menino a mostrar-se por detrás do pote de barro. O menino sorria, e ela notou quanto ele era bonitinho com aquele jeito moleque de olhar e de fazer gracinha. Ela foi outra vez até o pote, arrodeou-o, mas não encontrou ninguém. Novamente ficou à porta da cozinha e outra vez viu a carinha alegre do menino.
Então lhe rebentou no peito uma vontade danada de brincar com ele, de apertar-lhe as bochechas rosadas, de ouvir aquele riso desatado como pequenos sinos tocando nas manhãs de sol do povoado. A menina Nildinha queria-o para ser seu boneco, seu brinquedo, seu fofinho. E então muitas vezes ela foi até o pote, arrodeou-o, buscou em vão o afilhado. Só quando se distanciava, via-o a rir-se. Tonta e confusa, começou a chorar. Quando sua comadre voltou, encontrou-a abraçada ao pote, num pranto convulsivo.
Nildinha não se impressionara com a aparição do menino morto, mas estava absolutamente desconsolada por não poder ficar com ele para sempre.
Naquela manhã, o coração de Nildinha conheceu a dor dos improváveis desejos que se semelham a miragens...
(In: Lãs ao Vento)
Nildinha era a madrinha do menino. Ela mesma tinha menos de cinco anos quando o levou à pia batismal. Segurou-o com excessos de cuidado: receava machucá-lo ou derrubá-lo. Era já uma menina muito séria e muito responsável para a idade. Talvez por isso tenha sido convidada para ser a madrinha. A partir daquele dia, passou a ter uma comadre, um compadre e um afilhado, o que lhe dava uma certa distinção junto às outras crianças. Bom dia, comadre Nildinha, Como vai passando, comadre Nildinha?, Dê a bênção ao menino, comadre Nildinha, e assim por diante eram cumprimentos que a tornavam uma menina diferenciada, cheia de comedimentos, mesuras, compenetrações. Se estava a brincar, pulando corda ou no jogo das pedrinhas, afogueada como um raiozinho de sol, mal avistava a comadre ou o compadre e já se compunha: passava as mãos nos cabelos para acomodá-los melhor, ajeitava a roupa, enxugava com a barrinha da saia o rosto suado e, como um adulto, respondia à saudação, sem se esquecer de perguntar pelo afilhado.
Quando o menino morreu, Nildinha chorou um pouco e logo o esqueceu. Ela era uma criança e, talvez por isso, não internalizou aquela perda, não ficou a remoer saudades. No caixãozinho branco, o menino parecia dormir. Ela o olhou e disse: Deus te abençoe, meu afilhado. E só. No dia seguinte, brincava na pracinha como se nada houvesse acontecido. Mas continuou a considerar o pai e a mãe do menino como seus compadres, a cumprimentá-los com respeito e estima.
Pois naquela manhã, na cozinha da casa da comadre, Nildinha viu o afilhado morto a esconder-se, brincalhão, por detrás do pote de água. Ela havia ido buscar qualquer coisa emprestada, a pedido de sua mãe. Chamara pela comadre e, sem resposta, fora entrando. Ao ver o menino, Nildinha perguntou:
– O que está a fazer aí, meu afilhado?
Silêncio.
Ela de novo perguntou:
– O que está a fazer aí, meu afilhado?
Silêncio.
Então ela foi até o pote, arrodeou-o, mas não encontrou ninguém. Voltou para o ponto em que estava, recostou-se na porta da cozinha, e então viu a carinha risonha do menino a mostrar-se por detrás do pote de barro. O menino sorria, e ela notou quanto ele era bonitinho com aquele jeito moleque de olhar e de fazer gracinha. Ela foi outra vez até o pote, arrodeou-o, mas não encontrou ninguém. Novamente ficou à porta da cozinha e outra vez viu a carinha alegre do menino.
Então lhe rebentou no peito uma vontade danada de brincar com ele, de apertar-lhe as bochechas rosadas, de ouvir aquele riso desatado como pequenos sinos tocando nas manhãs de sol do povoado. A menina Nildinha queria-o para ser seu boneco, seu brinquedo, seu fofinho. E então muitas vezes ela foi até o pote, arrodeou-o, buscou em vão o afilhado. Só quando se distanciava, via-o a rir-se. Tonta e confusa, começou a chorar. Quando sua comadre voltou, encontrou-a abraçada ao pote, num pranto convulsivo.
Nildinha não se impressionara com a aparição do menino morto, mas estava absolutamente desconsolada por não poder ficar com ele para sempre.
Naquela manhã, o coração de Nildinha conheceu a dor dos improváveis desejos que se semelham a miragens...
(In: Lãs ao Vento)
"Minha estante"

"Dotada de uma sensiblilidade magnífica, Arriete Vilela ultrapassa os pensamentos mais profundos do íntimo. Descreve numa poesia atrelada à prosa, sempre permitindo a ultracriatividade do leitor.
Adoro seus poemas, principalmente quando fala sobre si mesma, quando simula - e expira sentimentos.
Recomendo imediatamente."
(Bona Moreira / Resenhas - Skoob: comunidade de leitores)
quinta-feira, 11 de agosto de 2011
De Otto Lara Resende
"Uma criança vê o que um adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo.
O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê."
(...)
O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê."
(...)
Sinônimos - Mário Quintana
terça-feira, 9 de agosto de 2011
Texto da profa. dra. Arrisete C.L. Costa na Revista Saeculum / UFPB
Na cultura historiográfica ocidental, as biografias históricas, a exemplo das biografias literárias, artesanam dialeticamente com os fios da memória e do esquecimento para moldarem as histórias pessoais e coletivas; assim, desvelam-nos existências anônimas de pessoas extraordinárias.
Confira no artigo “Biografias históricas e práxis historiográficas”, da historiadora e professora dra. da Universidade Federal de Alagoas Arrisete C. L. Costa, publicado na Revista Saeculum, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba.
http://www.cchla.ufpb.br/saeculum
Confira no artigo “Biografias históricas e práxis historiográficas”, da historiadora e professora dra. da Universidade Federal de Alagoas Arrisete C. L. Costa, publicado na Revista Saeculum, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba.
http://www.cchla.ufpb.br/saeculum
De José Saramago

“Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo! Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo!"
Enviado pela profa. dra. Edilma Acioli
segunda-feira, 8 de agosto de 2011
domingo, 7 de agosto de 2011
De José Mindlin
De Nelson Rodrigues
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
De Guimarães Rosa

"Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens."
De Hilda Hilst
"Aflição de ser eu e não ser outra.
Aflição de não ser, amor, aquela
Que muitas filhas te deu, casou donzela
E à noite se prepara e se adivinha
Objeto de amor, atenta e bela.
Aflição de não ser a grande ilha
Que te retém e não te desespera.
(A noite como fera se avizinha)
Aflição de ser água em meio à terra
E ter a face conturbada e móvel.
E a um só tempo múltipla e imóvel
Não saber se se ausenta ou se te espera.
Aflição de te amar, se te comove.
E sendo água, amor, querer ser terra."
Aflição de não ser, amor, aquela
Que muitas filhas te deu, casou donzela
E à noite se prepara e se adivinha
Objeto de amor, atenta e bela.
Aflição de não ser a grande ilha
Que te retém e não te desespera.
(A noite como fera se avizinha)
Aflição de ser água em meio à terra
E ter a face conturbada e móvel.
E a um só tempo múltipla e imóvel
Não saber se se ausenta ou se te espera.
Aflição de te amar, se te comove.
E sendo água, amor, querer ser terra."
quinta-feira, 4 de agosto de 2011
Com licença poética - de Adélia Prado
Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
— dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
— dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.
De Clarice Lispector
"Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada... Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro..."
segunda-feira, 1 de agosto de 2011
Leitor intruso na noite - Milton Hatoum
O leitor é um ser misterioso que faz parte da trama e da linguagem de uma ficção. É um coautor da invenção que está lendo. Procurar a identidade deste ou daquele leitor é uma busca sem fim, uma inconsequente especulação metafísica ou um salto no escuro. Por isso, quando escrevo, nunca penso no leitor. Mas na semana passada, tarde da noite, quando tinha acabado de ler na mesa de um bar um conto de um escritor argentino, um homem se aproximou de mim e disse com uma voz ríspida:
Sou um leitor e vim acertar as contas com você.
Eu ia perguntar alguma coisa, mas ele prosseguiu:
Por dois motivos: o primeiro é que você me excluiu do seu romance. O segundo e mais grave é que você matou meu pai nesse mesmo romance.
Fechei o livro que estava lendo e olhei com receio o intruso que falava com a disposição de um inimigo. Não sei como, uma voz saiu de dentro de mim:
Você foi excluído? Eu matei seu pai?
Isso mesmo. Seu romance é um relato calunioso, uma mentira pérfida. Eu sou o terceiro irmão, que você ignorou de uma forma vil. Além disso, meu pai está vivo. É um absurdo o que você fez com ele.
As janelas do bar estavam embaçadas; mesmo assim, procurei com os olhos um recorte da noite ou da realidade. Durante uns segundos, cedi ao efeito da bebida e duvidei da existência da voz que acabara de ouvir; em seguida vi com nitidez o rosto do homem a três palmos dos meus olhos.
Chuviscava. Ninguém nas calçadas. Os dois garçons tinham sumido e o vento frio entrava pela única porta aberta. Pensei: devia ter ido embora com o último notívago; pensei também que nesta cidade o último crime nunca é o último. Alguém está morrendo neste instante, alguém fez um disparo e amanhã a notícia desse crime recente será velha e inútil. Ia tomar um gole de conhaque, mas minhas mãos tremiam e achei prudente não revelar meu medo. Sem olhar para o intruso, me levantei com um gesto calmo, um gesto calculado e fingido. O conto que acabara de ler me deixou mais confuso e temeroso. Percebi que só eu e o intruso estávamos no bar; quase ao mesmo tempo percebi que ele era muito mais forte do que eu. Por um momento - uns cinco ou seis segundos - pensei que as acusações tinham chegado ao fim. Um bêbado ou um desesperado soltou um grito em algum lugar do quarteirão; esse som rompeu o silêncio e me aliviou um pouco. Quando o eco do grito sumiu, a noite se entregou ao silêncio demorado, que prenuncia o perigo. De repente, o homem enfiou a mão direita no bolso do casaco e em seguida abriu a outra mão com um gesto de mágico que me pareceu patético. Vi uma lâmina enferrujada na mão aberta e ouvi uma sentença em voz grave:
Para um mentiroso e covarde como você, não há saída.
Assustado, apenas murmurei: Há uma.
O intruso fechou a mão, apontando a lâmina escura no meu peito; olhou furtivamente para a porta aberta e perguntou com desprezo:
Qual saída?
Escrever outro livro, incluir um terceiro irmão na trama e ressuscitar seu pai.
E assim fiz, escrevendo como um louco até o amanhecer, quando enfim me livrei do pesadelo.
Sou um leitor e vim acertar as contas com você.
Eu ia perguntar alguma coisa, mas ele prosseguiu:
Por dois motivos: o primeiro é que você me excluiu do seu romance. O segundo e mais grave é que você matou meu pai nesse mesmo romance.
Fechei o livro que estava lendo e olhei com receio o intruso que falava com a disposição de um inimigo. Não sei como, uma voz saiu de dentro de mim:
Você foi excluído? Eu matei seu pai?
Isso mesmo. Seu romance é um relato calunioso, uma mentira pérfida. Eu sou o terceiro irmão, que você ignorou de uma forma vil. Além disso, meu pai está vivo. É um absurdo o que você fez com ele.
As janelas do bar estavam embaçadas; mesmo assim, procurei com os olhos um recorte da noite ou da realidade. Durante uns segundos, cedi ao efeito da bebida e duvidei da existência da voz que acabara de ouvir; em seguida vi com nitidez o rosto do homem a três palmos dos meus olhos.
Chuviscava. Ninguém nas calçadas. Os dois garçons tinham sumido e o vento frio entrava pela única porta aberta. Pensei: devia ter ido embora com o último notívago; pensei também que nesta cidade o último crime nunca é o último. Alguém está morrendo neste instante, alguém fez um disparo e amanhã a notícia desse crime recente será velha e inútil. Ia tomar um gole de conhaque, mas minhas mãos tremiam e achei prudente não revelar meu medo. Sem olhar para o intruso, me levantei com um gesto calmo, um gesto calculado e fingido. O conto que acabara de ler me deixou mais confuso e temeroso. Percebi que só eu e o intruso estávamos no bar; quase ao mesmo tempo percebi que ele era muito mais forte do que eu. Por um momento - uns cinco ou seis segundos - pensei que as acusações tinham chegado ao fim. Um bêbado ou um desesperado soltou um grito em algum lugar do quarteirão; esse som rompeu o silêncio e me aliviou um pouco. Quando o eco do grito sumiu, a noite se entregou ao silêncio demorado, que prenuncia o perigo. De repente, o homem enfiou a mão direita no bolso do casaco e em seguida abriu a outra mão com um gesto de mágico que me pareceu patético. Vi uma lâmina enferrujada na mão aberta e ouvi uma sentença em voz grave:
Para um mentiroso e covarde como você, não há saída.
Assustado, apenas murmurei: Há uma.
O intruso fechou a mão, apontando a lâmina escura no meu peito; olhou furtivamente para a porta aberta e perguntou com desprezo:
Qual saída?
Escrever outro livro, incluir um terceiro irmão na trama e ressuscitar seu pai.
E assim fiz, escrevendo como um louco até o amanhecer, quando enfim me livrei do pesadelo.
Assinar:
Comentários (Atom)