Sou escritora profissional, 58 anos, 40 de carreira literária por vocação (inevitavelmente jornalista por deformação profissional) e estou prestes a desistir de tudo isso, isso que, para mim, era um prazer – embora não fosse absolutamente um prazer – antes um gosto de sal, um desejo de renunciar a toda escrita enquanto escrevo, porque já não escrevo quando penso em todas as circunstâncias adversas que tornaram a cidade um local profundamente insalubre (não bastassem as internas como o terror a inércia o terror o adiamento da verdadeira vida) para esta escriba, circunstâncias que me obrigam a esquivar-me, engendrar expedientes, me fazendo recuar, me acossar, restringir-me a este caderno e a este momento solitário em meu estúdio, quando subitamente percebo que é vital essa espécie de balanço e ajuste de contas, de levantamento das atuais circunstâncias sociais adversas, as mesmas que até há poucos anos me incitavam a prosseguir, mas que agora me remetem ao âmbito dum cerco que se instaura e te sitia, como um horizonte de cães, tornando insuportável simplesmente o ato de sair – sair no verdadeiro sentido da ação que ficou sem sentido, ação/contenção, ação/inação, ergo não age, não existe. Bom.
Simplesmente sair, sentar num bar, pedir um drinque, acender um cigarro, abrir este caderno, simplesmente começar a escrever e lá ser deixada em paz com meu drinque, meu cigarro, minhas palavras, minhas ideias, concentrada sobre este texto que começaria se estendendo, espiando o início da noite, alheia ao ruído, perfeitamente concentrada e feliz e perseguindo as evoluções silenciosas eriçando-se de negros caracteres na fímbria dessa tessitura febril. Mas todas essas circunstâncias foram estancando, minguando, secando o fluxo da consciência, porque o cigarro já não é possível, donde o drinque fica meio chocho e este caderno, esta caneta tão anacrônicos, clamando por um laptop, por enquanto fora de cogitação, até porque não posso me dar o luxo de perder ficção, foda-se o laptop, e logo eu, que gosto de beber meio além da conta e fumar compulsivamente, principalmente quando o trabalho deslancha, atenta unicamente a esta voz interior, o surdo ditado imperioso urdindo palavras, sentenças, períodos, determinando ritmo e andamento, acelerando vertiginosamente o sincopado, o contraponto da ação em direção ao seu destino, buscando o verbo que as leve e o diabo que as carregue.
Em linhas gerais, era disso que tratava meu mister de escritora, constatando desesperadamente que agora o mundo levanta muros, interdições e justo a mim, que me basta tão pouco – um bar, um drinque, um maço de cigarros, a cidade que anoitece, vozes inaudíveis, garçons, sombras esquecidas – aquele espetáculo de sombras passando ao nosso lado, porém vivendo num mundo paralelo – usando a metáfora de Conrad ao se referir às embarcações nativas ao cruzar as naus de Sua Majestade, só que, no meu caso, “do outro lado” estava eu: out and nowhere.
Simplesmente aparecer em lançamentos de livros, encontrar amigos que conversavam e fumavam e bebiam – que não pintavam a contragosto, por obrigação, mas como quem vai a uma festa – donde rosas, vinho, risos, êxtases, rupturas, controvérsias, imprevistos, dois ou três amores, saudades, ausências – e o monstro social de mil línguas flamejantes nos fazia renascer mais belos, brilhantes, engraçadíssimos, dada a inexistência de 1) seguranças; 2) café descafeinado; 3) cerveja sem álcool; 4) crachás; 5) metanfetaminas, garrafinhas d’água & iPod; 6) lanches e sucos naturais; 7) fones de ouvido; 8) telão; 9) atravessar incontáveis barreiras, avançar em meio a um dédalo de emoções inúteis; 10) desacontecimentos Inc.
Desacontecimentos lá fora, silêncio (desescritora) aqui dentro. Como naquele jazz, Out and nowhere.
Da minha laia encontro um amigo cartunista: desenha e solta e espalha imagens em mesas com toalhas de papel, esboços balbuciantes que vão se alastrando, esboçando caras, focinhos, narizes, plantas que viram animais que viram monstros que se petrificam ou explodem em híbridas trepadeiras oceânicas conforme seus humores & universo pessoal: não desenha para se comunicar, mas pra mergulhar, desaparecer, descer buscando restabelecer contato com aquele mundo mais perdido e mais profundo que persegue, interminavelmente oceânico. Ele também recusa, também nega qualquer aceitação das presentes cirunstâncias adversas e sem tesão, daí subverte as convenções de superfície forrando-as totalmente com respostas sem perguntas: Out and nowhere, fora e em nenhum lugar.
Assim como ele, me sinto tão longe e absurdamente tão próxima do mundo, dos outros, da vida, do ano de 2010, dum bar na Vila Madalena onde alguém senta ao meu lado e pergunta se estou escrevendo um novo livro e, nesse caso, por que à mão? Coisa mais antiga, compra um laptop, fone de ouvido, aí sim você fica muito mais out and nowhere (sic), mas não devia fumar, aliás aqui é proibido, saca, é proibido em todo lugar, se liga, apaga isso, não dá mole pro segurança, pede um suco de acerola, tigela de açaí, taí o convite do lançamento do meu novo livro, vai ser na FNAC, das 19h às 21h, vão ter umas leituras, conto contigo, convida aí teu amigo, coquetel, claro, chás e sucos bem naturebas, e vê se não atrasa porque fecha.
Ficamos olhando ele ir embora com aquelas roupinhas, aquele topete eriçado bico de pato de quem acabou de abrir uma franquia do FransCafé no Iraque, eu e meu amigo cartunista, ficamos só olhando, assim, sem palavras.
Nós, os últimos dragões.
Márcia Denser é paulistana. Publicou, entre outros, Tango Fantasma (1977), O Animal dos Motéis (1981), Exercícios para o pecado (1984), Diana caçadora (1986), Toda Prosa (2002) e Caim (2006). Participou de várias antologias importantes no Brasil e no exterior. Organizou três delas - uma das quais, Contos eróticos femininos, editada na Alemanha. Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, é pesquisadora de literatura brasileira contemporânea, jornalista e publicitária.
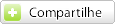
Nenhum comentário:
Postar um comentário